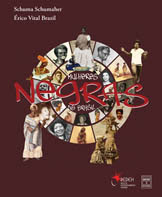Foto: Sakurai Midori
Foto: Sakurai MidoriO cheiro de café, do feijão, de torresmo e banana frita me levam numa viagem no tempo que até hoje eu não consegui descrever. São momentos que me fazem recordar a união de minha família. Os laços familiares são correntes da sobrevivência. Ninguém, nenhum homem é uma ilha.
Nunca poderia imaginar que falar de comida e afetividade resultasse num processo de imersão tão grande em minha vida. Entre tantos relatos bonitos, ligados à infância e comida, talvez o meu não seja tão feliz assim. Mas é tão importante quanto. Sou o que sou por ser o que éramos. Nós éramos uma dezena.
Dona Coracy era uma senhora muito simpática e doce. Na descrição rural, ela seria uma verdadeira galinha apanhadeira, pois sempre estava entre seus pintinhos. Dez filhos e uma casa para terminar.
Meu pai finalizou o básico no auge de seus quarenta e faltando uma perna, perdida por acidente de trabalho – história essa que a família, automaticamente, apagou. Eu tinha nove meses. Cresci sem pai. Que coisa!
Com a morte de meu pai, passamos a ser nove caixas de saída e nenhuma caixa de entrada. Com a caridade de poucos vizinhos, e alguns bens deixados pelo meu pai, fomos recebendo doações e vendendo: coelhos, charretes, cavalos... Até ficar com quase nada de criação. Restava apenas vender verduras – chuchu. Até ficar com quase nada. A casa já estava “quase” terminada. Muitos quartos, uma grande cozinha e um quintal a perder de vista.
Com a morte de mais dois irmãos, ainda pequenos, Manoel Emílio e Marcelo, fiquei aos cuidados das minhas irmãs mais velhas e minha mãe começou a lavar roupa para fora. O dinheiro não dava. Passou a trabalhar como doméstica na capital. Quando chegava o domingo, logo pela manhã, eu entrava debaixo da mesa para minha mãe chegar logo. Superstição, mas dava certo. Bastava eu me agachar e o trinco da porta fazia um barulhinho. Mesmo com tanta coisa para fazer, como era bom ver aquela figura materna entrando pela porta adentro! Meu coração parecia explodir de tanta alegria. Ah, seu cheiro. Como é bom cheiro de mãe!
Agora, éramos sete. Com a família um pouco menor, poderia se pensar que as coisas iriam melhorar. Pôr os filhos de quatro e cinco anos para trabalhar era sinônimo de melhoria. Pois bem, estávamos melhorando. Todas domésticas e carregadores de caixas em feiras livres.
O quintalCom o cerco da ditadura, mulheres, feministas e articuladas, minha irmã mais velha (que considero minha segunda mãe) precisou ir para Portugal. Política. A nossa salvação, por um bom tempo, no entanto, durou pouco. Minha mãe não sabia como trocar o dinheiro, aí, mais uma vez fomos enganados. Mais uma vez. O dinheiro era trocado por uma ninharia que mal dava para passarmos o mês.
O quintal foi a nossa verdadeira salvação. Nele eu tinha o meu mundo. Aos sete anos de idade, conheci verdadeiramente a fome. E confesso, não a achei bonita. Pretendo pular essa parte. São veias que não quero mais mexer.
Mas narro aqui o que realmente interessa: o milagre das goiabas. Com um vasto quintal, na época mais difícil da história de Campinas, tirávamos dali todo o nosso sustento. Mandioca, frutas variadas, verduras. Mas a goiabeira foi uma grande mãe. Tínhamos dois tipos no quintal: a branca e a vermelha. No entanto a vermelha, parecendo sentir a situação precária que passávamos, por um longo período, dava o ano inteiro. Como deu.
Essa goiabeira foi o nosso parquinho, brincávamos nela sempre que acabávamos de fazer nossos deveres, diga-se de passagem “domésticos” e escolares. Xingávamos até na hora de varrer aquele imenso quintal cheio de folhas, abelhas e formigas, por conta das goiabas caídas no chão. Era uma história de amor e ódio, um verdadeiro paradoxo.
O milagreEm toda minha vida só vi minha mãe chorar uma vez. Na morte de minha irmã Marisa. Naquela época eu já estava com 23 anos. Sendo assim, na minha infância, nunca vi minha mãe chorar. Não na minha frente, pois hoje que sou mãe, sei que elas choram... E como!
Quando eu conheci a fome, eu fui apresentada aos milagres que uma mãe preta é capaz de fazer não tendo nada. Já vivi um mês inteiro à base de goiaba. Estudava de manhã e o meu café da manhã era o pão de minuto – feito com fubá, pois a farinha era cara, banha de porco e sal com uma pequena pitada de açúcar [1]. Minha mãe fazia uma geléia da polpa da goiaba com açúcar preto – mascavo, naquela época açúcar de pobre – e misturava no leite quente. Era um verdadeiro achocolatado, só que de goiaba. Um agoiabado! Perdão pelo neologismo, mas eu não resisti!
No almoço, quando não era salada de goiaba, era macarrão – feito em casa – com molho de goiaba. Carne? Carne! O que é isso? Nem nossos coelhos nós comíamos, de dó. E as galinhas, todas com nome, só iam para panela quando alguém ficava doente. Muito doente mesmo! Eu me lembro de uma de minhas irmãs dizerem: “Que menina de sorte, vai comer canja hoje”. Acho que é por isso que sempre a mesma ficava doente.
O jantar, sempre uma polenta com um molho – rosa – de goiaba ou sopa de fubá com couve. Santa couve. Como eu te comi! Tudo, hoje, referente ao fubá, o máximo que consigo comer é polenta com frango caipira. Se colocar um prato de sopa de fubá na minha frente, eu saio correndo, e se for com couve, vixe!!!
Tínhamos o hábito da ceia. Era religioso antes de dormir cearmos. Tínhamos no cardápio o bolo de fubá e café com leite. Nas marés baixas, era broa de fubá, goiabada cascão e chá de erva cidreira.
Enfim, aquela mulher, arcada pelo peso das trouxas de roupas, realizava na cozinha verdadeiros milagres. Tínhamos manga, banana, mexerica, limão, laranja e limão galego, mas era nas goiabas que mantínhamos a base alimentar da casa.
“Seiscentas calorias, rica em vitamina C e eliminadora dos radicais livres, ou seja, anti-envelhecimento...”
O único arrimo de família, meu irmão Mário, foi minha figura paterna até a adolescência. Envelhecido pelas responsabilidades e acanhado por viver no meio de tantas mulheres, minha mãe nunca escondeu, ou sequer disfarçou, a paixão que tem por ele. Podemos dizer que ele, apesar de seu ostracismo, é o filho perfeito. Mas com a idade e a escola do mundo descobri que ninguém é perfeito.
As égides de minha vida foram as demoradas conversas que tinha com o meu pai. Não me lembro quando isso começou, mas em momentos críticos de tristeza, fome e solidão, eu batia altos papos com o meu velho. Depois de uma longa conversa eu criava forças para uma nova jornada. Sempre perguntava como seria minha vida se meu pai estivesse vivo. Eu queria loucamente ter um pai.
Todos me olhavam de soslaio. Tinham um olhar de piedade. Mas no fundo, no fundo, eu deveria mesmo é ser um fardo para eles. Eu era a única que dependia deles para tudo. Todos moços, trabalhando e eu agachada pelos cantos da casa, secando de saudades de minha mãe.
Com o passar dos anos a família foi cindida. A cada falecimento, a cada partida eu me partia. Minha identidade se perdia. Mas uma vez me encontrava sozinha.
Tínhamos uma vida espartana. Matávamos, ou melhor, meus irmãos matavam um leão por dia. Hoje choro com os relatos de meus alunos. Re-visito minha história, toda vez, quando leio as suas.
Por Márcia Adão
[1] Não se preocupem, darei as receitas.